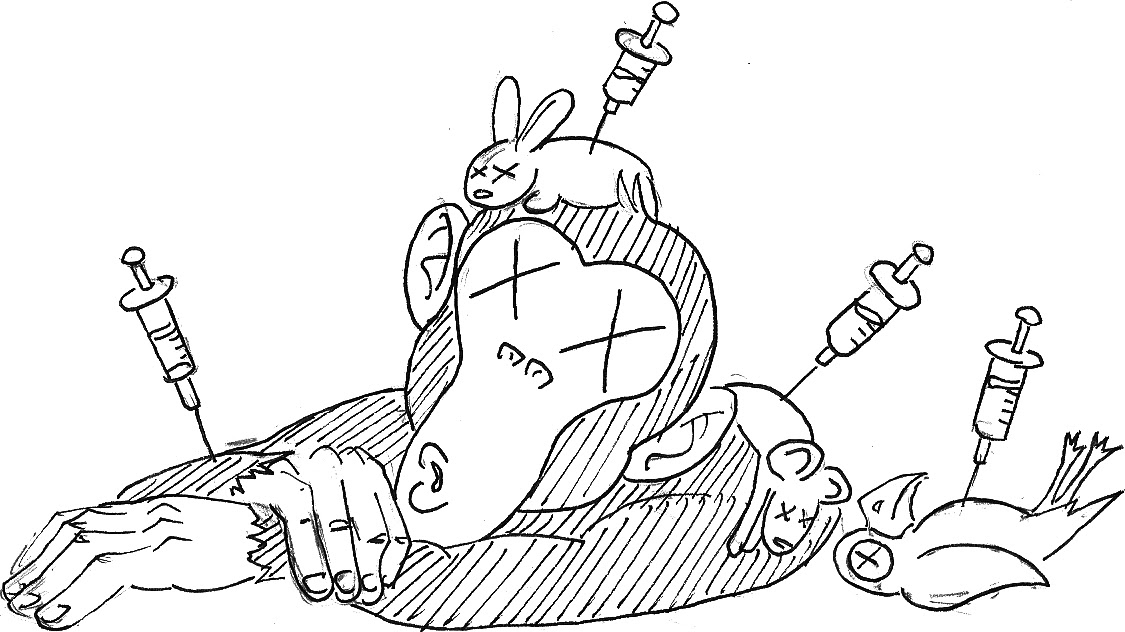Série Ensaios: Bioética Ambiental
Por Thierry Betazzi
Lummertz
Biólogo e aluno ouvinte PPGB
Após 1990, a
Bioética tomou força principalmente pela necessidade de uma discussão sobre as políticas
públicas
voltadas para suprir a deficiência social e econômica da população menos
favorecida.
A falta de
interesse do poder público em investir recursos para a saúde, saneamento e
educação às populações carentes, somado ao desinteresse da indústria farmacêutica
em desenvolver pesquisas para o controle de epidemias, que atingem países
periféricos, acarretaram as doenças denominadas de negligenciadas. Dessa maneira, algumas doenças, que já deviriam estar
controladas, aumentaram a taxa de mortalidade ocasionando grande impacto social
e econômico. Atualmente, houve um aumento dos casos de Zika doença que já estava sob
controle, mas que no Brasil registrou cerca de 91.387 casos prováveis da doença
em 2016 (Governo do Brasil,).
A Zika é uma infecção viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, com surtos registrados na África, nas Américas, na Ásia e no Pacífico. Há também um pequeno número de casos conhecidos por transmissão sexual e transfusão de sangue, bem como um aumento de transmissão de mãe para feto por meio da placenta. Os sintomas geralmente são leves, no entanto, houve registros de complicações neurológicas e autoimunes da doença. Recentemente, as autoridades nacionais de saúde observaram um aumento de 20 vezes/ano de bebês nascidos com microcefalia no Nordeste do Brasil e de um aumento nas infecções por Zika no público em geral. Não há tratamento ou vacina disponível, sendo a forma mais conhecida de prevenção o controle ao mosquito que além do Zika é causador da Dengue e da Chikungunya.
Com esse
aumento de incidência de casos de Zika, surgiu no Nordeste brasileiro um
cenário nunca visto anteriormente preocupando pesquisadores, governantes e a
população. A taxa de microcefalia em recém-nascidos passou a ser vinculada ao
Zika vírus afetando o bem-estar das mães e de seus bebês. A microcefalia
prejudica a autonomia da criança, o que afeta sua convivência em sociedade,
além de abalar a estrutura familiar, fazendo com que surgisse questionamentos
éticos a respeito da inserção dos atores atingidos na sociedade. Dentro desses
questionamentos, o princípio que norteia o caso é o da compaixão, que tem algo de singular:
a compaixão não exige nenhuma reflexão prévia, nem argumento que a fundamente.
Para o
filósofo Leonardo Boff,
a compaixão
implica assumir a paixão do outro, é se colocar no lugar do próximo em momentos de vulnerabilidade, jamais permitindo que sofra sozinho. Talvez esse princípio
seja, entre as virtudes humanas, a mais humana de todas, porque não só nos abre
ao outro, como também nos permite se solidarizar incondicionalmente
com a dor do próximo. Pouco importam a ideologia, a religião, o status social e a cultural das pessoas,
afinal a compaixão anula essas diferenças e faz estender as mãos às vitimas.
Diante da desgraça do outro não há como ser indiferente ou egoísta para a
profunda compreensão e consequente comunhão com o sofrimento do outro, assim
como os samaritanos compassivos da parábola bíblica. Na compaixão se dá o encontro de todas as religiões, do Oriente
e do Ocidente, de todas as éticas, de todas as filosofias e de todas as
culturas. No centro está a dignidade e a
autoridade dos que sofrem, provocando em nós a compaixão ativa.
O Filósofo Schopenhauer, que introduziu
na filosofia ocidental os elementos do budismo, considera a compaixão e a
bondade como virtudes fundamentais nas relações humanas, enquanto a tradição ocidental
não considera a compaixão uma virtude. Para o autor, o mundo é vontade e
representação, que se estende a toda a natureza, e nos demonstra todos os dias
que essa vontade irracional e cega move todos os seres vivos. Essa força também
é egoísta e centrada na subsistência, afinal o egoísmo separa os homens e a
compaixão, por sua vez, aproxima-os.
Nem sempre o princípio da compaixão é
utilizado em sua forma central, afinal o egoísmo tende a prevalecer quando se
envolve poder, dinheiro e interesse individual, mesmo que por lei todo cidadão
devesse ter o direito à saúde e ao tratamento para viver em condições dignas. Infelizmente,
no Brasil as políticas públicas não integram as necessidades da população de
forma igualitária, sendo notório um abismo social entre as classes. Com a
grande incidência de casos de microcefalia e malformações, que ocasionam
inúmeras internações em UTIs e intervenções cirúrgicas, tem se discutido o esforço
terapêutico em manter em tratamento pacientes que possuem pouquíssimas chances
de recuperação, por gerarem altos custos de medicação e equipamentos, que, por
sua vez, poderiam ser usados por pacientes com mais probabilidade de
sobrevivência.
Por essa razão,
o protocolo de Groningen
regulariza a redução dos investimentos em recém-nascidos com baixa qualidade de
vida, sendo proposto dois procedimentos: a eutanásia, que é a morte
provocada por sentimento de piedade à pessoa que sofre ou quando outro decide
pela morte do paciente; e a ortotanásia,
que é a morte pelo processo natural. Nesse caso, o doente já está em processo
natural de morte e recebe uma contribuição médica para que esse estado siga seu
curso normal. No Brasil foi decidido o aborto
para as gestantes com risco de morte devido a má-formação do feto.
Por outro
lado, a solução solicitada pelas mães afetadas pelo Zika e pela microcefalia
seria o tratamento urgente para minimizar os sintomas, devendo ser de
responsabilidade do Estado e do governo,
e garantir assim melhoria na qualidade de vida dessas famílias. Além disso, diversas
pesquisas estão sendo desenvolvidas por meio dos relatos diários das mães afetas
que contribuem para o avanço do diagnóstico da microcefalia.
Como uma forma
de se solidarizarem e de buscar informações e apoio, essas mães criaram uma ONG,
na qual compartilham a missão de aprender com esses serem que vieram de alguma
forma para ensiná-las o amor e a compaixão por meio da maternidade. Afinal, o
que é compaixão? Lutar por algo que não tem cura ou abreviar o sofrimento do
indivíduo?
Eu como
Biólogo e aspirante a Bioeticista acredito que a melhor solução para o caso das
crianças com microcefalia seria o apoio governamental auxiliando as mães que
tiveram suas crianças afetadas pela doença, disponibilizando tratamento adequado,
para que assim elas tenham uma melhor qualidade de vida assim como as mães que
necessitam de apoio para o cuidado com seus filhos, afinal é obrigação do
governo auxiliar, informar e apoiar a população afetada, principalmente, por
epidemias ou guerras.
O presente ensaio foi desenvolvido para a disciplina de
Bioética Ambiental do PPGB baseando-se nas seguintes obras:
ANDRADE,
B.L.A.; ROCHA, D.G. Doenças
negligenciadas e bioética: diálogo de um velho problema com uma nova área do conhecimento.
Revista Bioética, 23 (1): 105-113, 2015.
BOFF, L. O princípio compaixão e
cuidado. Ed. Vozes, 2009.
CHANES, I.R; MONSORES, N. Uma reflexão bioética e
sanitária sobre efeitos colaterais da epidemia de Zika vírus: revisão
integrativa sobre a eutanásia/ortotanásia nos casos de anomalias fetais. Cad. Ibero-Amer. Dr. Sanit, Brasília,
5(2): 56-72, 2016.
Governo
do Brasil. Disponível em:http://www.brasil.gov.br/saude/2016/04/saude-divulga-pimeiro-balanco-com-casos-de-zika-no-pais acessado
em 20/12/2017.
NOGUEIRA,
R.J. A Ética da compaixão na filosofia de Schopenhauer. Disponível em: <www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/etica.../Renato_Nogueira.pdf> Acessado em 20/12/2017.
PINHEIRO,
D.A.J.P.; LONGHI, M.R. Maternidade como missão. A trajetória militante de uma
mãe de bebê com microcefalia em PE. Cadernos
de Gênero e Diversidade. V.3, (2): 1-21, 2017.